A Marinha Grande e o vidro:
dois séculos e meio de identidade

Texto abreviado da Autoria de Emília Margarida Marques,
«Marinha Grande e o vidro: dois séculos e meio de identidade»
in Programa das Comemorações dos 250 anos de indústria vidreira, 1748-1998
Edição da Câmara Municipal da Marinha Grande, 1998.
Os Stephens
Corre o ano de 1769 quando um Alvará de D. José autoriza ao negociante Guilherme Stephens «o restabelecimento e continuação» da oficina vidreira arruinada. Concedem-se-lhe isenções fiscais, combustível gratuito do Pinhal Real, vultuoso empréstimo sem juros, protecção régia directa - a isto se juntando, mais tarde, fortes restrições à importação de vidro.
Rapidamente o inglês expande a velha manufactura. Em 1772 reunira já um considerável património fundiário, construira novas instalações - vastas oficinas e um palacete residencial - e, sobretudo, iniciara a produção nos três subsectores básicos: vidraça (em 1769), cristal (em 1770) e decoração (em 1772). O número de assalariados - que inclui artíficies estrangeiros - dispara, sobretudo nos primeiros anos: quase dobra - de 76 para 135 - entre 1769 e 1770.
Em 1802, a população da freguesia subira mais de 50%, mas o número de indivíduos ligados à Fábrica crescera seis vezes: de 76 para 409. Administrando patriarcalmente o estabelecimento, Stephens intervém igualmente na agricultura, no comércio, nas comunicações. No final de Setecentos, um visitante regista, de modo já hiperbólico, a sua influência: «M. Stephens fez construir um palácio, reparar as grandes estradas, povoar e cultivar a região, plantar florestas; enfim, ele é o benfeitor destas paragens» [Link, 1805].
A Fábrica induz crescimento demográfico e económico; mais habitantes, regularmente remunerados, estimulam o comércio e a produção locais. Mas a mudança é supra-quantitativa: multiplicam-se os contactos com centros económicos e administrativos; chegam novos residentes ou visitantes; reformulam-se o espaço local e as partições temporais, emerge um novo grupo social: os vidreiros - com os seus mecanismos próprios de produção e reprodução social, fortemente interactuantes com as circunstâncias técnicas da produção - terão desde aí presença decisiva na história local.
No século XVIII, fabricar vidro implicou a interiorização de novos saberes, vocábulos, ritmos e gestos, de outras atitudes face à actividade profissional. Fontes coevas sublinham estas alterações culturais, que lêem mediante conceitos de "civilização" ou "polidez": «estes povos que, antes do estabelecimento da Fábrica, eram o retrato da miséria, são hoje polidos, industriosos e florescentes».
«O distrito de Leiria não é um distrito fabril. As fábricas são, por assim dizer, um acessório nele, exceptuando a da Marinha Grande »(Macedo, 1855). A Fábrica engendra, na verdade, outra Marinha, claramente destacada da região envolvente.
Falecido Guilherme Stephens, em 1803, o estabelecimento torna-se, até 1826, propriedade do seu irmão João Diogo. Na época, fortes perturbações e mudanças no contexto nacional reduzem drasticamente o apoio administrativo (sobretudo a protecção pautal) de que a manufactura sempre fora tão dependente, achando-se esta agora «muito diminuída no seu antigo esplendor» (Neves, 1983).
De facto, o estabelecimento não se adaptara. Em 1826 mantinha «o método de trabalhar e fabricar à mesma maneira como o era há cinquenta anos [...] fazendo-se os trabalhos à custa de braços, que se devia fazer por máquinas, e por falta de aplicação das descobertas modernas se fazia ordinariamente vidro ordinário e ruim, indo a mais em formas antigas e sem gosto de moda». Continuava a considerar-se indispensável o resguardo alfandegário. Ainda em 1821 o administrador requerera às Cortes liberais a interdição «quanto antes possível for da importação de vidro estrangeiro, único remédio que poderá salvar este útil estabelecimento» - invocando o facto de a Fábrica ser, além do mais, «um estabelecimento de civilização, beneficência e caridade».
Na verdade, a própria quebra económica propiciava o crescimento deste papel social: laborando-se «somente em benefício dos fabricantes da mesma e dos moradores da Marinha Grande e vizinhanças, em prejuízo do proprietário da Fábrica, sendo as contas de lucro imaginário» (e as despesas cobertas pela vasta fortuna pessoal do mesmo proprietário), nada obstava ao «princípio do administrador de meter todos os filhos dos fabricantes na Fábrica, assim como mulheres e raparigas para lavagem de areia, encaixitar e escolher vidros, e nada disso se importava o dono da mesma, tendo dinheiro para tudo isso», pelo que o número de assalariados subia «talvez ao triplo dos que eram necessários. Havia além disso muitas pessoas que tinham pensões e esmola da Fábrica». À morte de João Diogo Stephens (1826), são meia centena os assalariados.
Assim, embora quase sem receitas próprias, a Fábrica é , cada vez mais ampla e directamente, a fonte de recursos de quase todos os marinhenses.
Depois dos Stephens: uma fábrica estatal
Coincidentemente, em breve a Fábrica será uma instituição pública: João Stephens lega-a à «Nação Portuguesa».
Apesar das diligências locais, a execução desta vontade foi prejudicada pela instabilidade política reinante, pela força das ideias liberais e pela precária situação da Fábrica. Finalmente, em Junho de 1827 o governo entrega a gestão a uma sociedade encabeçada pelo barão de Quintela e por Antóno Esteves Costa (Conde de Farrobo).
Costa e Quintela encontraram a Fábrica em boas condições, beneficiaram de protecção estatal (não pagando renda e tendo grátis as lenhas), viram aumentar a procura dos seus produtos, não investiram no estabelecimento – que se depreciou consideravelmente – e baixaram os salários. Contudo, não apresentaram lucros nem quiseram continuar a exploração.
Sucedeu-lhes, em Outubro de 1848, Manuel Joaquim Afonso, rico negociante então bem relacionado nos círculos do poder central (Barosa 1997). Afonso intensificou a baixa de salários e procurou rentabilizar a mão-de-obra de forma algo abusiva. Mas introduziu progresso técnico – designadamente, a primeira máquina a vapor (Almeida 1860) – e promoveu a divulgação dos produtos da Fábrica (Barosa 1997).
Solicitando este empresário o prolongamento do contrato, levantaram-se dúvidas quanto à justeza de uma fábrica subsidiada proporcionar lucros privados. Após prorrogação por um ano, o governo ordena, em 1859, um inquérito administrativo, do qual resulta o agravamento das condições de exploração (Almeida 1860). Surge um único interessado, Casimiro José de Almeida, sob cuja direcção a Fábrica tem, durante o lustro seguinte, pouco mais de um ano de trabalho efectivo.
O número de assalariados é agora inferior às cifras do tempo dos Stephens: são 276 em 1840, 286 em 1847, 304 em 1852, uns 320 em 1863. Mas a eles se dirige boa parte do comércio e da produção locais, pelo que os períodos de paralisação da Fábrica – quase cinco anos entre 1827 e 1864 – forçam o governo a auxiliar directamente a povoação.
Entre 1864 e 94, porém, vive-se nova aclamia: três décadas sob uma única empresa arrendatária. É suscitada alguma renovação técnica (substitui-se um dos motores hidráulicos pelo aumento da capacidade da máquina a vapor e instalam-se dezenas de maquinismos auxiliares nas oficinas (inquéritos industriais de 1865 e de 1890), quase duplica o número de operários e são promovidas as vendas – continuando porém a pedir-se protecção pautal e a praticar-se redução de salários (Mónica 1981). A população local cresce bastante e são introduzidos vários melhoramentos, sobretudo vias de comunicação. A Marinha é vila desde 1892, após uma visita régia (Agosto desse ano).
O contrato 1864-94 foi uma excepção: nos 25 anos seguintes ocorrem três companhias arrendatárias e um ano sem administração. As mudanças técnicas aceleram: máquinas de acabamento em série, novos fornos - incluindo um forno a tanque, em 1901. Mas há também forte agitação laboral, relacionada com deslocações compulsivas de mão-de-obra e com a intervenção no vidro do grupo Burnay, que pretendeu, sem êxito, monoplozar o sector. A situação radicaliza-se a partir de 1917, quando se intensificam velhas reclamações de gestão participada pelos operários, atendidas dois anos depois: a Fábrica é entregue a uma comissão administrativa.
Embora recebesse apoio, estatal e local, a Comissão encontrou apagados os fornos. Enfrentou também algumas oposições e, sobretudo, a profunda crise vidreira sequente ao pós-Guerra. Falhou: em 1924 o Governo anuncia, sob forte protesto local, o fecho e a venda da Fábrica. Suspende-se a decisão, mas os Serviços Florestais cortam o fornecimento de lenhas. Embora os pedidos de reabertura evoquem a crise generalizada - o trabalho da Nacional será partilhado por todos os cristaleiros - aquela apenas ocorre, conduzida por um "gerente técnico", no fim de 1925 ou já em 26 - subsistindo no final de 27 ameaças de encerramento.
Sob a ditadura, mantém-se a administração estatal directa. Acácio de Calazans Duarte será director até 1966, conseguindo, nas novas condições, a recuperação da Fábrica. É de 1954 a designação "Fábrica-Escola Irmãos Stephens" e de 1959 a subordinação ao recém-criado Instituto Nacional de Investigação Industrial. Após 25 de Abril de 1974, a FEIS torna-se EP, depois SA (1990, no âmbito de uma tentativa de privatização), sucedendo-se as administrações e os conflitos internos.
Sobretudo quanto ao período posterior a 1919, aguarda ainda estudo o percurso técnico, financeiro, comercial e social da Fábrica neste século, interrompido pelo encerramento decidido em Conselho de Ministros em 15 de Maio de 1992.
Os protestos locais a este propósito tiveram sobretudo por base (além da perda de postos de trabalho), razões de ordem histórica e simbólica: em 1992, de há muito não era a Fábrica o esteio da vida económica local: outros sectores produtivos haviam assumido primazia. E mesmo enquanto vidreira a antiga Stephens deixara de ser única na vila desde o último terço do século XIX.
As Fábricas novas. Apogeu, declínio, transformação
De facto, avulta no relativo crescimento marinhense da viragem do século o fim da centenária exclusividade da Real Fábrica: até final de Oitocentos, inauguram-se sete unidades vidreiras, quatro das quais ainda presentes: Santos Barosa, fundada em 1886; Central (hoje J. Ferreira Custódio), fundada em 1893; Nova (depois CIP, hoje Ivima) em 1895; Ricardo Galo, em 1899. Entrado o novo século, surgem a Almeida Morais & Cª (1905) e a Boavista (1906) já encerradas.
Mas é durante a I Guerra e anos imediatos, interrompida a concorrência europeia, que mais cresce o número de fábricas e de operários. às 8 unidades do final de 1916, empregando à volta de 1300 operários, correspondem em 1922 catorze, com cerca de 1800 (Barosa 1993) - enquanto as fábricas já existentes aumentam a sua capacidade produtiva.
Esta euforia - que, a agravar, não é apenas local - ajudará à grave crise que se anuncia a partir de 1921 e campeia ainda no início dos anos 30. Em 1925, «a população desta vila está caminhando para a tuberculose e para a morte» (O Século, 26 Janeiro 1925). Após reiteradas deligências, cria-se uma "cozinha económica" - sugerindo alguns antes uma "cooperativa de consumo" a crédito, que evitasse aos operários o «opróbio de uma sopa, dada com ostentação».
Similarmente, as Associações de classe vidreiras quiseram proceder `repartição pelos operários do pouco trabalho existente - tal como haviam distribuído a mão-de-obra durante e logo após a Guerra. Mas a proliferação de vidreiros, incluindo contingentes não locais de mão-de-obra «mais barata e, sobretudo, [...] desorganizada» (Mónica 1981) conduzem-nos à perda de negocial, só em parte se realizando aquela pretensão. Porém, na medida em que os vidreiros ainda conquistam - ou recuperam - regalias, são as associações de classe quem gere esse poder. Segue-se-lhes, em 1931, ano de aguda crise, um sindicato único (Gregório 1975). Ocorrem greves e outras acções, apesar da repressão. O movimento nacional de 18 de Janeiro de 1934 contra a governamentalização dos sindicatos reveste na Marinha cariz insurreccional - eventualmente porque o sindicalismo então ameaçado descendia directamente (através das associações de classe) de seculares formas de poder vidreiro (Mónica 1981), centrais aos processos de produção e reprodução social do grupo.
A longa crise e o acréscimo de força patronal resultante do desemprego, da progressiva mecanização e da nova conjuntura política farão perder aos vidreiros, em grande parte, o seu antigo controlo do processo produtivo e da carreira profissional. Muito após a década de 1930 (época de maior crise, com os vidreiros trabalhando no Pinhal ou na construção de estradas), mantém-se o baixo nível salarial da maioria, uma Previdência ineficaz (grande responsável pela lentidão das promoções, que agrava o problema salarial), muito trabalho infantil algum desemprego flutuante associado à mecanização ou fecho de fábricas. Só muito lentamente desaparecem os numerosos organismos e práticas "beneficientes" surgidos nos períodos mais críticos.
O sector vidreiro continua a apresentar dificuldades financeiras e técnicas, mais agudamente até meados dos anos 50 (exceptuando o período favorável da II Guerra). Contudo, a mecanização avança, mormente no vidro de embalagem, onde o "semi-automático" se instala pelos anos 1940 e 50 e a automatização ganha peso a partir do final da década seguinte. Quanto à cristalaria, mantém até hoje processos de fabrico sobretudo manuais, enquanto a automatização da vidraça ocorre fora da localidade, pela aplicação de medidas de condicionamento e concentração industrial por parte do Estado Novo. Enfim, a partir de meados do século a indústria vidreira marinhense evolui e volta a crescer, contribuindo fortemente para o ininterrupto (e superior à média nacional) acréscimo demográfico verificado no concelho e para o facto, relacionado, de se manter e acentuar o cariz operário da localidade: a percentagem de activos ligados ao sector secundário é superior a 70% nos Censos de 1950, 60, 70 e 80.
Mas outras áreas industriais se vão implantando localmente. Fabrico e transformação de matérias plásticas chegam à localidade em 1952. E já anteriormente se autonomizara e começara a expandir a indústria de moldes metálicos: em 1946 fabrica-se o primeiro molde marinhense para matérias plásticas, destinado à exportação. De qualquer modo, o vidro domina até ao início dos anos 1980: segundo o censo de 1981, trabalham no sector metade dos activos da indústria transformadora do concelho; o fabrico de produtos metálicos acolhe 19% e os plásticos somente 9%.
Tudo será diferentes dez anos depois: a forte crise económica e social que durante os anos 80 atinge as vidreiras locais, acarretando elevados montantes de dívidas aos trabalhadores, despedimentos ou outras saídas e encerramento de fábricas conduz a que, em 1992, se encontre no conjunto daquelas empresas apenas um terço (34%) dos activos locais do sector secundário. Ao mesmo tempo - e sobretudo até 1987 - assiste-se ao boom da indústria dos moldes, que então se multiplica em estabelecimentos mínimos, tipo oficina, e por outro lado, em médias unidades consideravelmente automatizadas: em 1989 acolhe 27% dos activos do secundário.
Em síntese: no final dos anos 1980, o vidro deixara de ser o principal produtor de riqueza e o principal empregador local, não sendo já também socialmente identificado, no conjunto - e sobretudo por contraste com o emergente sector dos moldes - como factor ou sede de progresso ou desenvolvimento. Após o momento em que, no final de Oitocentos, outras grandes unidades vidreiras se vieram juntar à Real Fábrica, após a automatização de processos de fabrico vivida a meio deste século. Abres-se, com a crise dos anos 1980, um terceiro tempo de grande transformação na indústria marinhense do vidro.
Menos vidreira, a Marinha tornara-se também menos operária: os 70% de activos na indústria transformadora contados em 1981 são 63% dez anos depois - subindo entretanto o sector terciário de 27% para 36%. Descera também o nível de concentração de mão-de-obra, tanto nas fábricas de vidro (as antigas perderam trabalhadores, as que se criam de novo têm menor dimensão; junto aos fornos, as próprias obragens são agora mais pequenas) como no sector industrial de mais recente desenvolvimento (os moldes), cujos operários são além disso, sob muitos aspectos, socialmente diferentes dos do vidro. Mais genericamente, era outra a estrutura da população activa, tendo baixado a percentagem de trabalhadores por conta de outrém e aumentado a proporção de activos por conta própria e bastante mais a de patrões (3% em 81, 8% em 91).
Uma síntese possível destas vastas alterações (que se reflectem já, por exemplo, na drástica diminuição do crescimento demográfico e no comportamento eleitoral) seria dizer que as mesmas configuram aproximações da estrutura demográfica, produtiva e social local aos valores regionais e nacionais (Marques 1995). Dir-se-ia então que a especificidade local construída desde há 250 anos pela presença da indústria vidreira está, sob alguns aspectos decisivos, em vias de desaparecimento, arrastada pela grande quebra verificada na actividade que lhe deu origem.
Esta ideia só é aceitável, porém, mediante algumas precisões.
Em primeiro lugar, o termo "quebra" já não é, ao presente, adequado à descrição do que se passa no vidro marinhense. As grandes unidades automatizadas e competitivas da garrafaria separaram-se há vários anos do bloco em crise. E mesmo no fabrico de vidro doméstico, a par com as dificuldades por que passam empresas mais antigas e de maiores dimensões, verifica-se a criação de novas unidades - processo aliás iniciado por antigos assalariados ainda nos anos 80, precisamente na sequência do fecho ou redução de efectivos, adaptando-se a procuras cosmopolitas actuais (sobretudo na área da decoração). E o êxito com que o fazem advém, em parte e paradoxalmente, do facto de não se terem "actualizado" - isto é, de se terem mantido as possibilidades plásticas associadas ao fabrico manual. A "tradição" tem portanto o seu lugar, mesmo enquanto recurso económico. Uma das empresas mais recentes, que acolhe escasso número de assalariados, apresentando-se como "fábrica-estúdio" (uma inovação na localidade) evoca mesmo explicitamente a tradição vidreira marinhense como base da produção proposta. Entretanto, também o vidro fora das fábricas tem visto aumentar a sua visibilidade e inclusive concitado recursos extra-locais (comunitários, nomeadamente). Enfim, ao invés de "quebra" é certamente de "transformação" que se deve hoje falar em relação ao vidro marinhense.
Em segundo lugar, há que relacionar a noção de "especificidade" acima utilizada com aquela, mais abrangente, de identidade. Se é possível encontrar grandes semelhanças comparando grupos humanos através de indicadores estatísticos, já os contornos da auto-imagem de cada um deles - isto é, da forma como em cada um dos indivíduos se identificam enquanto membros do grupo e se relacionam com essa pertença - são irrepetíveis. Uma tal imagem, condição da própria existência do grupo, é constantemente utilizada na relação com o exterior, orientada para a obtenção do maior ganho.
Ora, e ilustrando uma das vertentes do fenómeno global e dúplice da "uniformização mundial e patrimonialização identitária" (Segalen e Bromberger 1996) - à medida que, no caso marinhense, foi desaparecendo a especificidade "estatística" que se referiu, maior se tornou o papel da indústria vidreira nos processos locais de construção social de identidades (processos que, aliás, aceleram precisamente em situações de mudança).
Como outrora a primeira fábrica foi o principal recurso económico dos marinhenses, o vidro é hoje (sem prejuízo da importância material que mantém e, como vimos, relacionadamente com esta) o seu mais importante recurso simbólico.
Recuemos dois séculos e meio. Numa obscura aldeia de terras arenosas, sombreada pelo Pinhal, mãos anónimas erguem um forno. Alguém lhe chega o primeiro lume, alguém compõe o primeiro enfornamento. Pela primeira vez alguém colhe, sopra, dá forma... Nunca saberemos quem foram. E, no entanto, a partir dos seus gestos começava a tomar forma uma realidade que dominaria a vida local, que ao longo de vinte e cinco décadas havia de tocar, com maior ou menor intensidade, a vida de cada marinhense, que havia de ser a própria vida de tantos, e que nunca mais saiu das práticas e dos discursos (e dos sonhos) locais.
Aquele primeiro sopro do vidreiro continua a chegar até nós.
Documentos:
Em vitrines de mesa:
Livro de Caixa da Real Fábrica de Vidros (1780/1801); alvará da Rainha; senha de 1921 com retrato de G. StephensNa parede: diplomas da fábrica Stephens (incluindo diploma oferecido pelo Sr. Gabriel Roldão, da MG); notícia sobre fundador da fábrica Santos Barosa in O Marinhense
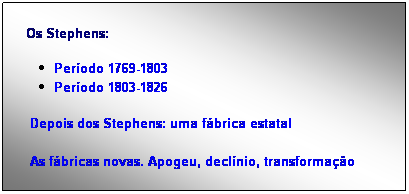
![]()